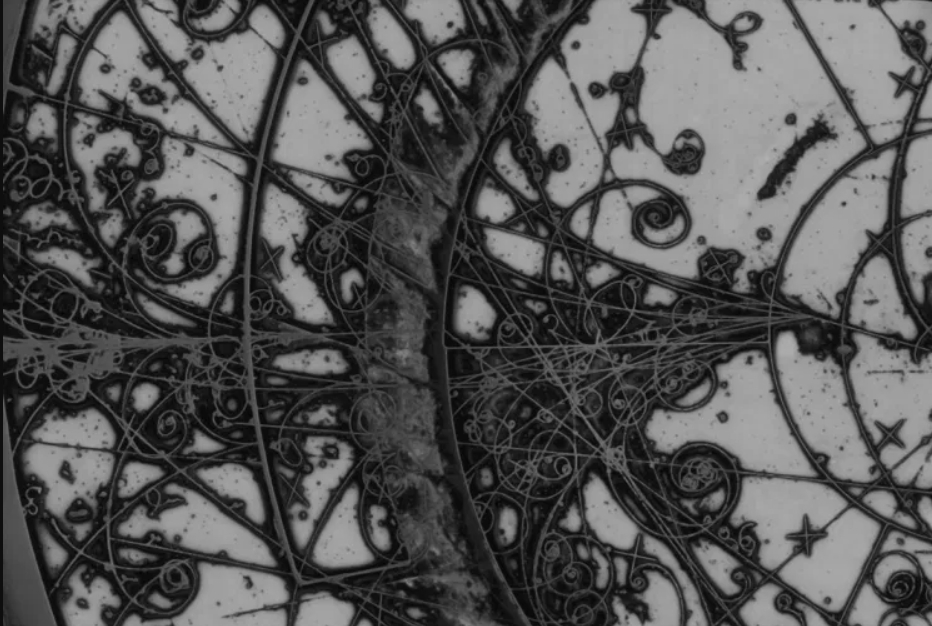Por Alain Badiou, traduzido por Márcio Correa
O excerto abaixo foi extraído do Abrégé de métapolitique de Alain Badiou publicado em meados da década de 90, traduzido para o português somente em Portugal pela Edições Piaget como Compêndio de Metapolítica.
A palavra “democracia” é hoje a principal organizadora do consenso. O que se supõe que a palavra abraça é a queda dos Estados socialistas orientais, o suposto bem-estar dos nossos países, bem como as cruzadas humanitárias ocidentais.
Na verdade, a palavra “democracia” é inferida a partir do que eu chamo “opinião autoritária”. É de certa forma proibido não ser um democrata. Por conseguinte, promove-se que a espécie humana anseia pela democracia, e toda subjetividade suspeita de não ser democrática é considerada patológica. No seu melhor, infere uma reeducação tolerante, no seu pior, o direito de intrometer-se com fuzileiros e paraquedistas democráticos.
A democracia, inscrevendo-se assim em sondagens e consensos, suscita necessariamente as suspeitas críticas do filósofo. A filosofia, desde Platão, significa romper com as sondagens de opinião. A filosofia deve escrutinar tudo o que é espontaneamente considerado “normal”. Se a democracia designa um estado normal de organização coletiva, ou vontade política, então o filósofo pedirá que a norma desta normalidade seja examinada. Ele não permitirá que a palavra funcione dentro do quadro de uma opinião autoritária. Para o filósofo, tudo o que é consensual torna-se suspeito.
Confrontar a visibilidade da ideia democrática com a singularidade de uma determinada política, especialmente a política revolucionária, é uma prática antiga. Já era utilizada contra os bolcheviques muito antes da Revolução de Outubro. Na verdade, a crítica dirigida a Lênin – o seu postulado político visto como não-democrático – é original. No entanto, ainda hoje é interessante ler a sua réplica.
O contra-argumento de Lênin tem duas vertentes. Por um lado, ele distingue, de acordo com a lógica da análise de classe, entre dois tipos de democracia: a democracia proletária e a democracia burguesa. Afirma então a supremacia, em extensão e intensidade, da primeira sobre a segunda.
No entanto, a sua segunda estrutura de resposta parece-me mais adequada ao estado atual das coisas. Lênin insiste nisso que por “democracia”, em verdade, deve sempre se ler “uma forma de Estado”. Forma significa uma configuração particular do caráter distinto do Estado e do exercício formal da soberania. Posicionando a democracia como uma forma de Estado, Lênin subscreve a filiação do pensamento político clássico, incluindo a filosofia grega, que defende que a “democracia” deve, em última análise, ser concebida como um tropo de soberania ou de poder. Poder do “demos” ou povo, a capacidade do “demos” de exercer coerção por si próprio.
Se a democracia é uma forma de Estado, que uso filosófico pré-estabelecido próprio pode ter esta categoria? Com Lênin o objetivo – ou ideia – da política é o definhamento de qualquer forma de Estado, incluindo a democracia. E isso poderia ser denominado de comunismo genérico, como basicamente expresso por Marx nos seus Manuscritos Econômico-Filosóficos. O comunismo genérico designa uma sociedade associativa e igualitária livre onde a atividade dos trabalhadores polimorfos não é governada por regulamentos e articulações técnicas ou sociais, mas é gerida pelo poder coletivo das necessidades. Numa tal sociedade, o Estado é dissolvido como instância separada da coerção pública. A política – por muito que exprima os interesses dos grupos sociais e cobice a conquista do poder – é de fato dissolvida.
Assim, o objetivo da política comunista visa o seu próprio desaparecimento na modalidade do fim da forma separada do Estado em geral, mesmo que se trate de um Estado que se declara democrático.
Se a filosofia se baseia naquilo que identifica, legitima ou categoriza os objetivos finais da política, assim como as ideias reguladoras que atuam como a sua representação, e se esse objetivo é reconhecido como o definhamento do Estado – que é a proposta de Lênin -, então pode ser chamado de pura apresentação, livre associação; ou, novamente, se o objetivo final da política é colocado como autoridade não-separada do infinito ou o advento do coletivo enquanto tal, então, no que diz respeito a esse suposto fim, que é o fim atribuído ao comunismo genérico, a democracia não é, não pode ser considerada como uma categoria de filosofia. Por quê? Porque a democracia é uma forma do Estado; desde que a filosofia avalie os objetivos finais da política, e que esse fim seja também o fim do Estado, concluiu-se pelo fim de toda relevância para a palavra “democracia”.
A palavra “filosófica” adequada para avaliar a política poderia ser, neste quadro hipotético, a palavra “igualdade”, ou a palavra “comunismo”, mas não a palavra “democracia”. Pois esta palavra está tradicionalmente ligada ao Estado, à forma do Estado.
Daí resulta a ideia de que “democracia” só pode ser considerada um conceito da filosofia se uma destas três hipóteses seguintes for rejeitada. As três estão interligadas e, de alguma forma, defendem a visão leninista sobre democracia. E são:
Hipótese 1: O objetivo final na política é o comunismo genérico, ou seja, a pura apresentação da verdade do coletivo, ou o definhamento do Estado.
Hipótese 2: A relação entre filosofia e política implica a avaliação do objetivo final de uma determinada política, do seu significado geral ou genérico.
Hipótese 3: A democracia é uma forma do Estado.
Sob estas três hipóteses, a “democracia” não é um conceito necessário da filosofia. Só pode tornar-se tal se uma dessas três hipóteses for abandonada.
Seguem-se três possibilidades abstratas:
-
-
- Que o comunismo genérico não seja o objetivo último na política.
- Que a relação entre filosofia e política não seja uma relação de escrutínio, esclarecimento ou legitimação dos objetivos finais.
- Que a “democracia” implique algo mais do que uma forma do Estado.
-
Sob qualquer uma dessas três possibilidades, a estrutura segundo a qual “democracia” não é um conceito da filosofia é posta em questão. Gostaria de analisar uma a uma essas três disposições que permitem a consideração ou reconsideração da “democracia” como uma categoria da filosofia propriamente dita.
Vamos assumir que o objetivo último da política não é a pura asserção da apresentação coletiva, não é a livre associação de homens, desvinculada do princípio de soberania do Estado. Vamos supor que o comunismo genérico, mesmo como uma ideia, não é o objetivo último da política. Qual pode então ser o objetivo da política, a finalidade da sua prática, por mais que essa prática envolva questionar, ou desafiar, a filosofia?
Penso que duas hipóteses principais podem ser interpretadas à luz do que é visto como a história dessa questão. De acordo com a primeira hipótese, o objetivo da política seria a configuração, ou o advento, do que pode ser chamado de “bom Estado”. A filosofia seria apresentada como um exame da legitimidade das várias formas possíveis do Estado. Procurar-se-ia nomear o caráter preferível da configuração do Estado. Tal seria a aposta final do debate sobre os objetivos da política. Isso está de fato relacionado com a grande tradição clássica da filosofia política, desde os gregos, dedicada à questão da legitimidade da soberania. Agora, é claro, uma norma aparece em cena. Qualquer que seja o regime ou o estatuto da norma, uma preferência axiológica por um tipo distinto de configuração estatal relaciona o Estado com um princípio normativo como, por exemplo, a superioridade de um regime democrático sobre um monárquico ou um aristocrático, por qualquer razão particular. Ou seja, a convocação de um sistema geral de normas sanciona essa preferência.
Como observação de passagem, digamos que essa situação não se aplica à hipótese em que o objetivo último na política é o definhamento do Estado, uma vez que não se trata do “bom Estado”. Para o caso de se tratar do processo político como autocancelamento, é como se engajar pela cessação do princípio de soberania. Não se trata de uma norma associada com a configuração do Estado. Diz antes respeito à ideia de um processo que conduziria ao definhamento de toda a configuração do Estado. A singularidade desse processo não pertence à questão normativa, uma vez que pode ser exercida sobre a persistência do Estado. Por outro lado, se o objetivo último da política é o “bom Estado” ou o Estado preferível, então a emergência de uma norma parece inelutável.
Ora, isso coloca uma questão difícil, na medida em que a norma é inevitavelmente externa ou transcendente. O Estado, em si mesmo, é a objetividade sem norma. É o princípio de soberania, ou de coerção, dotado de um funcionamento separado necessário ao coletivo enquanto tal. Obterá a sua determinação num conjunto de regulamentos decorrentes de temas subjetivos. Essas são precisamente as normas que irão introduzir o tema do “bom Estado” ou do Estado preferível. Na nossa situação atual, ou seja, a circunstância nos nossos Estados parlamentares, a relação subjetiva com a questão do Estado é regulada de acordo com três normas: a economia, a questão nacional e, precisamente, a democracia.
Consideremos primeiro a economia. O Estado é responsável por assegurar um funcionamento mínimo da circulação e distribuição de bens; cai em descrédito como tal se se revelar exageradamente incapaz de cumprir essa norma. Na esfera da economia em geral, qualquer que seja a sua relação orgânica com o Estado, este último é subjetivamente responsável pelo funcionamento da economia.
A segunda norma é a questão nacional. O Estado está sob um conjunto de normas como a nação, a representação na cena mundial, a independência nacional, etc. É responsável pela própria existência do princípio nacional no país e no estrangeiro.
Em terceiro lugar, a democracia é hoje em dia em si mesma uma norma, uma vez que é considerada dentro da relação subjetiva com o Estado. O Estado é responsável por saber se é democrático ou despótico, pela sua relação com instâncias como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de ação.
A oposição entre ditadura e democracia é algo que funciona como uma norma subjetiva na avaliação do Estado.
Assim, a situação real da questão subordina o Estado ao trio normativo do funcionamento econômico, da avaliação nacional e da democracia. Aqui a “democracia” atua como uma caracterização normativa do Estado, precisamente como o que se pode chamar a categoria de “uma política”, e não de política em geral. “Uma política” é o que regula uma relação subjetiva com o Estado. Digamos que a configuração do Estado que regula a sua relação subjetiva com o Estado sob as três normas acima mencionadas – economia, questão nacional, democracia – pode ser apelidada de parlamentarismo, embora eu prefira chamar-lhe parlamentar-capitalismo. Contudo, uma vez que “democracia” é aqui invocada como a categoria de uma política particular – uma política particular cuja universalidade é bastante problemática – devemos abster-nos de a definir como sendo em si mesma uma categoria filosófica. Nesse nível de análise, a “democracia” desdobra-se como uma categoria que caracteriza – através da formulação de uma norma subjetiva em relação ao Estado – uma política particular, que eu considero chamar “parlamentarismo”.
Lá se vai a hipótese de que o objetivo último da política é determinar o “bom Estado”. O que se obtém, no máximo, é que “democracia” acaba por ser a categoria de uma determinada política, o parlamentarismo. Essa não é uma razão definitiva para colocar a “democracia” como um conceito filosófico.
O que estamos aqui a examinar é o objetivo último da política quando este objetivo não é o comunismo genérico. A nossa primeira consideração foi que a política visava o estabelecimento do melhor Estado possível. Daí decorre que a “democracia” não é necessariamente um conceito dentro da filosofia.
O segundo raciocínio possível leva-nos à noção de que o objetivo último da política não é outro senão ele próprio. Nesse caso, a política não abordaria a questão do “bom Estado”, mas seria o seu próprio objetivo para si própria. Ao contrário do que tem sido refletido anteriormente, a política tornar-se-ia então um movimento de pensamento e ação que ilude livremente a subjetividade e a subjetividade do Estado dominante, que se reúne e organiza projetos mal adaptados para consideração e representação dentro das normas sob as quais o Estado funciona. Neste caso, a política é apresentada como uma prática coletiva singular afastada do Estado. Mais uma vez este tipo de política, na sua essência, não é a portadora de uma agenda estatal ou de uma norma estatal, mas sim o desenvolvimento daquilo a que se pode chamar a dimensão da liberdade coletiva, precisamente porque evita o consenso normativo representado pelo Estado – desde que o Estado seja avaliado por essa liberdade organizada.
“Democracia” é, assim, relevante? Sim, “democracia” é relevante “se a democracia tiver de ser entendida num sentido que não seja uma forma do Estado”. Se a política é assim para si própria o seu próprio objetivo, na medida em que é capaz de se retirar do consenso do Estado, poderá eventualmente ser apelidada de democrática. Contudo, neste caso, a categoria não funcionará num sentido leninista, como uma forma de Estado. E isto leva-o de volta à terceira condição negativa no que diz respeito às três hipóteses leninistas.
Aqui conclui a primeira parte da nossa discussão, isto é: e se o objetivo da política não for o comunismo genérico?
A segunda parte da discussão diz respeito à própria filosofia. Vamos assumir que a filosofia não está relacionada com a política, nem é a representação ou a apreensão dos fins últimos da política, que a filosofia tem outra relação com a política e que não se destina a avaliar – o comparecimento perante um tribunal – ou legitimar os fins últimos da política. Como é que a filosofia se relaciona então com a política? Qual é o nome dessa relação? Como devemos prescrevê-la?
Há uma primeira hipótese, nomeadamente que a tarefa da filosofia seria o que eu chamo a descrição formal da política, a sua tipologia. A filosofia criaria um espaço onde a política seria discutida de acordo com a sua espécie. Em suma, a filosofia seria uma apreensão formal dos Estados e da política ao pré-elaborar ou expor a dita tipologia a possíveis normas. No entanto, quando esse é o caso – indubitavelmente isso faz parte do trabalho de pensadores como Aristóteles ou Montesquieu – torna-se evidente que a “democracia” atua sobre a filosofia como a descrição de uma forma do Estado. Não há dúvidas quanto a isso. Assim, a categorização parte de configurações estatais, e “democracia” torna-se, do ponto de vista da filosofia, a descrição de uma forma do Estado, em oposição a outras formas como tirania, aristocracia e assim por diante.
Mas se “democracia” designa uma forma do Estado, a premissa seria então afirmada, relativamente a esta forma, sobre “os objetivos da política”. Será uma questão de “querer” essa forma? Se assim for, estamos dentro da lógica do “bom Estado”, que é o que foi anteriormente analisado. Ou será uma questão de ir além dessa forma, de dissolver a soberania, mesmo a soberania democrática? Neste caso, recaímos dentro do quadro leninista, a hipótese de definhamento. Em todo o caso, essa opção remete-nos para a primeira parte da discussão.
A segunda possibilidade implica a tentativa da filosofia de apreender a política como uma atividade singular de pensamento, da própria política como proporcionando ao coletivo histórico uma modalidade de pensamento que a filosofia deve assumir como tal. Aqui a filosofia deve ser entendida – definição consensual – como a apreensão cogitativa das condições operacionais do pensamento nos seus diferentes registros. Se a política é considerada como um pensamento operativo, num registro próprio (tese central de Lázaro), então a tarefa da filosofia é a apreensão das condições operacionais do pensamento nesse registro específico denominado política. Daqui decorre que se a política é um pensamento operativo, não pode ser subserviente ao Estado, não pode ser reduzida ou refletida na sua dimensão estatal. Vamos nos aventurar numa proposta bastante espúria: “o Estado não pensa”.
Como observação passageira, o fato de o Estado não pensar é a fonte de todo o tipo de dificuldades para o pensamento filosófico no que diz respeito à política. Todas as “filosofias políticas” produzem provas de que o Estado não pensa. E quando estas filosofias políticas colocam o Estado como líder da investigação sobre a política como pensamento, as dificuldades aumentam. O fato de o Estado não pensar leva Platão, no final do livro IX na República, a declarar que, como último recurso, pode prosseguir a política em todo o lado, exceto na sua própria pátria. E a mesma eventualidade leva Aristóteles à conclusão angustiante de que, uma vez isolados os tipos ideais de política, só restam os tipos patológicos no real. Por exemplo, para Aristóteles, a monarquia implica um tipo de Estado que pensa e tem fama de ser pensado. No entanto, no real só existem tiranias, que não pensam, que são impensáveis. O tipo normativo nunca é alcançado. Isso também leva Rousseau a verificar que na história tudo o que existe são Estados dissolvidos, e nenhum Estado legítimo. Finalmente, esses postulados, que são extraídos de dentro de concepções políticas totalmente heterogêneas, concordam num ponto: nomeadamente, não é possível visualizar o Estado como a porta de entrada para a investigação política. Forçosamente, deparamo-nos com o Estado como uma entidade não-pensante. O problema deve ser perseguido de outro ângulo.
Portanto, se a “democracia” é uma categoria da política como pensamento, ou seja, se a filosofia precisa usar a “democracia” como categoria para se apropriar do processo político como tal, então esse processo político escapa à injunção onipresente do Estado, uma vez que o Estado não pensa. Por conseguinte, a “democracia” não é aqui entendida como uma forma do Estado, mas sim de forma diferente, ou num outro sentido. E é assim que se é levado de volta à proposição que coloca a “democracia” como algo que não é uma forma do Estado. Mas o que é esse algo?
Aí reside o cerne da questão. Trata-se de um problema de conjunção. A que se deve juntar “democracia”, para além do Estado, para se tornar uma verdadeira abordagem à política como pensamento? Há uma grande tradição política pertinente a isso, e não irei mais longe. Basta mencionar apenas dois exemplos relativos à tentativa de conjugar “democracia” com algo que não seja o Estado, permitindo assim o reexame metapolítico (filosófico) da política como pensamento.
A primeira instância diz respeito à conjugação direta da “democracia” com a atividade política das massas – não com a configuração do Estado, mas com o seu antagonismo imediato. Pois geralmente a atividade política das massas, a sua mobilização espontânea, surge sob um impulso antiestatal. Isso produz o sintagma da democracia de massas, ao qual vou atribuir um caráter romântico, e a oposição entre democracia de massas e democracia como configuração do Estado, ou democracia formal.
Quem quer que tenha experimentado a democracia de massas – acontecimentos históricos como a reunião geral coletiva, concentrações de massas, tumultos, etc. – nota manifestamente um ponto imediato de reversibilidade entre a democracia de massas e a ditadura de massas. Inevitavelmente a essência da democracia de massas é traduzida numa soberania de massas, e essa soberania de massas torna-se, por sua vez, uma soberania de imediatez, de se reunir. A soberania da reunião exerce – formações de modelo que Sartre denominou “group-in-fusion” – uma irmandade de terror. Aqui a fenomenologia de Sartre persiste incontestavelmente. Existe uma correlação orgânica entre a prática da democracia de massas como princípio interno do grupo na fusão e um ponto de reversibilidade com o elemento autoritário ou ditatorial imediato em ação na irmandade do terror. Olhando para a questão da democracia de massas propriamente dita, nota-se que não é possível legitimar o princípio após o único recurso da democracia, uma vez que essa democracia romântica inclui imediatamente, tanto em teoria como na prática, a sua reversibilidade para a ditadura. Trata-se assim de um par democracia/ditadura que evita uma designação elementar, ou ilude uma apreensão filosófica, sob o conceito de democracia. E o que é que isso implica? Implica que quem atribuir legitimidade à democracia de massas, pelo menos hoje, o faça com base, ou melhor, do ponto de vista da perspectiva não estatal de pura apresentação. A apreciação, mesmo sob a denominação de democracia, da democracia de massas enquanto tal, é inseparável da subjetividade do comunismo genérico. A legitimação desse par de imediatismo – democracia/ditadura – só é concebível se o par for pensado, e valorizado, a partir do ponto genérico do definhamento do Estado, ou da perspectiva de uma atitude radical antiestatal. Na verdade, o polo oposto à consistência estatal, que aparece precisamente no imediatismo da democracia de massas, é um representante provisório do comunismo genérico. Voltamos agora à nossa primeira grande hipótese: se a “democracia” se conjuga com a “massa”, o objetivo da política é na realidade o comunismo genérico, donde a “democracia” não é uma categoria da filosofia. Essa conclusão é empírica e conceitualmente estabelecida pelo fato de, na perspectiva da democracia de massas, ser impossível diferenciar a democracia da ditadura. É o que obviamente permitiu aos marxistas empregar a expressão “ditadura do proletariado”. Deveria ser nosso entendimento que a valorização subjetiva da palavra “ditadura” assentava assim na presença de tal reversibilidade entre democracia e ditadura como aparece historicamente na figura da democracia de massas, ou democracia revolucionária, ou democracia romântica.
Resta-nos outra hipótese, uma hipótese bem diferente: a “democracia” deve ser conjugada com a própria regulação política. A “democracia” não estaria relacionada com a figura do Estado ou com a figura da atividade política de massas, mas sim organicamente com a regulação política, desde que a regulação política não seja subserviente ao Estado, ao “bom Estado”, quando este não é sistematizado. A “democracia” estaria organicamente ligada à universalidade da regulação política, à sua capacidade de universalidade, e assim a palavra “democracia” e a política como tal estariam vinculadas. Mais uma vez, é política no sentido de que é algo mais do que um programa de Estado. Neste caso, haveria uma caracterização intrinsecamente democrática da política, na medida em que a sua autodeterminação se posiciona como um espaço de emancipação retirado das figuras consensuais do Estado.
Há algumas provas disso no Contrato Social de Rousseau. No capítulo 16, livro III, Rousseau discute a questão do estabelecimento do Estado – aparentemente o tema oposto que aqui estamos a discutir -, a questão da instituição do Estado. Depara-se com uma dificuldade bem conhecida, nomeadamente que o instrumento causal do governo não pode ser um contrato, não pode proceder da dimensão de um contrato social, no sentido em que esse contrato age como fundador da nação enquanto tal. A instituição do Estado diz respeito a indivíduos específicos, e isso não pode ser levado a cabo por meio de uma lei. Para Rousseau, uma lei implica necessariamente uma associação global que relaciona o povo com o povo e, por conseguinte, não pode envolver indivíduos específicos.
A instituição do Estado não pode ser uma lei. E isso sugere que também não pode ser a prática da soberania. Pois a soberania é precisamente a forma genérica do contrato social e conota sempre uma relação de totalidade com a totalidade – do povo com o povo. Aparentemente, enfrentamos aqui um impasse. É necessária uma decisão, uma decisão que deve ser ao mesmo tempo especial (uma vez que estabelece o governo) e geral (uma vez que é tomada pela “totalidade” do povo e não pelo governo, que ainda não existe e acabará por ser estabelecida). No entanto, é impossível para Rousseau que essa decisão resulte da vontade geral, uma vez que todas as decisões desse tipo devem ser manifestadas sob a forma de uma lei ou de um ato de soberania. E este só pode ser o contrato acordado por todo o povo e todo o povo, um contrato que não tem caráter particular. Também se pode colocar a questão desta forma: o cidadão vota a favor das leis, o magistrado governamental toma as medidas concretas. Como são nomeados magistrados particulares quando ainda não existem magistrados, mas apenas cidadãos? Rousseau sai dessa dificuldade ao afirmar que “a instituição do governo é realizada através da súbita conversão da soberania em democracia, para que sem uma mudança sensata, e meramente em virtude de uma nova relação de todos, os cidadãos se tornem magistrados, e passem de atos gerais para atos particulares, de legislação para a execução da lei”. Para muitos esse foi um truque de conjectura singular. O que significa essa súbita conversão sem qualquer modificação da relação orgânica entre a totalidade e a totalidade? Como é que uma mera deslocação dessa relação, que é o contrato social como instituto da vontade geral, permite o procedimento para a possibilidade de iniciar atos políticos particulares? Basicamente isso significa – deixando de lado a argumentação formal – que a democracia se refere originalmente “ao caráter particular dos interesses em jogo na regulação política”. A regulação política com os seus interesses particulares em jogo – em último recurso, só há interesses particulares – está confinada à democracia. O caso de Rousseau para o estabelecimento de um governo é apenas um exemplo simbólico. De um modo geral, a universalidade da regulação política – por muito que ela se furte à singularidade do Estado – só pode ser implantada como tal quando interesses particulares estão em jogo e é constrangida, quando implantada sob interesses particulares, quanto mais não seja para investir a forma democrática a fim de permanecer política. Aqui ocorre efetivamente uma conjunção primária entre democracia e política.
A democracia pode então ser definida como aquilo que autoriza um investimento individual ao abrigo da lei da universalidade da vontade política. “Democracia”, de certa forma, designa as figuras políticas da conjunção entre situações particulares e a política. Nesse caso, e apenas nesse caso, a “democracia” pode ser recapturada como uma categoria filosófica. A seguir, a democracia designará o que pode ser designado como a eficácia na política, ou seja, a política quando se conjuga com interesses particulares. A política assim entendida torna-se livre da sua responsabilidade para com o Estado.
A fim de prosseguir essa contenda, expõe a forma como “democracia”, nessa conjunção com a regulação política enquanto tal, refere-se em filosofia à aceitação de um tipo específico de política cuja regulação é universal. Ainda assim, esse tipo específico de política pode se juntar ao particular numa figura em que as situações se transformam de modo a tornar impossível qualquer outra enunciação injusta.
O raciocínio dessa posição é bastante complexo e apresento um breve esboço. Digamos que “democracia” postula o fato de que a política – no que diz respeito a uma política de emancipação – está mais cedo ou mais tarde relacionada com a natureza especial da vida das pessoas, não com o Estado, mas com as pessoas que surgem no espaço público. Mais uma vez, a política não pode ser ela própria, que está a ser democrática, ao lidar com essa particularidade na vida das pessoas, a não ser que ponha de parte todo o sentido injusto no próprio negócio. Pois, se a política permite uma aceitação injusta na sua negociação, então introduz uma norma não democrática – no sentido original que aqui estou a abordar – e a conjunção é anulada. Isso significa que a política já não é competente para lidar com o particular, na perspectiva da regulamentação universal. A política irá lidar com o particular de forma diferente; irá lidar com ele da perspectiva do regulamento particular. Assim, o caso seria que cada regulamento particular redirecionaria a política para o Estado onde está sujeito à restrição da jurisdição do Estado. Consequentemente, a palavra “democracia”, no seu significado filosófico, pressupõe uma espécie de política na medida em que a eficácia do seu processo emancipatório funciona com a impossibilidade própria de qualquer enunciado injusto em relação a essa situação. Para que o objetivo desse tipo de política seja um produto real do fato de essas enunciações serem, através de tal política, não proibidas, mas impossíveis. A interdição é sempre uma regra do Estado; a impossibilidade é uma regulação do real.
Também a democracia como categoria filosófica é o que “faz avançar a igualdade”. Ou, o que exclui de circular como nomeações políticas – ou como categorias políticas – qualquer tipo de predicado formalmente em contradição com a ideia igualitária.
Na minha opinião, esse mesmo fato restringe drasticamente a possibilidade de utilizar na política, sob o sinal filosófico da democracia, qualquer tipo de designações “comunitárias”. Pois a designação comunitária ou a atribuição de identidade aos subconjuntos como tal não pode ser tratada após a ideia da impossibilidade de uma enunciação injusta. Consequentemente, “democracia” é a que regula a política em relação aos predicados comunais, aos subconjuntos de predicados. A democracia é aquela que ancora a política ao elemento de universalidade próprio do seu destino. Também exporá articulações de raça, bem como articulações sexuais ou sociais ou hierárquicas, ou uma enunciação tal como: “há um problema com os imigrantes”, que desfaria a conjunção entre política e democracia. “Democracia” significa que “imigrante”, “francês”, “árabe”, “judeu” são palavras que inevitavelmente trazem calamidade à política. Para essas palavras, e muitas outras, referem-se necessariamente a política ao Estado, e a função mais baixa e mais essencial do Estado é a ruptura injusta da humanidade.
Em última análise, a tarefa do filósofo consiste em expor uma certa política à sua avaliação. Nem no sentido do “bom Estado”, nem no sentido do comunismo genérico, mas intrinsecamente, ou seja, por si próprio. A política definida sequencialmente como aquela que tenta criar a impossibilidade do enunciado injusto, poderia, pela inclinação da palavra “democracia”, ser exposta através da filosofia àquilo a que chamarei uma certa eternidade. Digamos que por meio da palavra “democracia” assim concebida, pela filosofia e somente por ela, a política pode ser avaliada após a regra do eterno retorno. Então a filosofia apodera-se da política, não apenas como o avatar particular ou pragmático da história humana, mas como ligado a um padrão de avaliação, que sustenta sem ridículo, ou sem crime, que o retorno seja previsto.
No final uma palavra muito antiga, uma palavra muito usada, nomeia filosoficamente as políticas que superam essa provação: é a palavra “justiça”.